Mário Cordeiro
Médico há mais de 30 anos, autor de mais de uma dezena de livros em
diferentes registos. Toca piano, é um leitor compulsivo e fotógrafo
amador. Acaba de tirar um curso de História de Arte e está decidido a
aprender violino para acompanhar um dos filhos. Mário Cordeiro tem bicho
carpinteiro como as crianças. Encontramo-lo numa manhã de férias numa
esplanada com vista para a Praia da Areia Branca. Há anos que o seu
retiro é por ali, na aldeia de Cezaredas, perto da Lourinhã. A caminho
dos 60 anos, gosta cada vez mais do campo e sente-se cada vez com mais
sede e fome do mundo, na corrida contra o tempo da vida.
Foi sempre uma coisa que me entusiasmou, até pela parte da ciência, da descoberta. Aquele aspecto mais de trabalho de Sherlock Holmes, de chegar ao diagnóstico a partir dos dados, como se estivesse a fazer um puzzle. Depois terei sido influenciado por ter crescido num ambiente médico.
O pai, também Mário Cordeiro, insistiu nisso?
Ele era pediatra. Sei que gostava da ideia, mas não. O meu irmão mais velho andou em Medicina e depois desistiu e tenho uma irmã médica. Na altura não havia serviços de urgência de pediatria – o primeiro em Santa Maria era numa casa de banho adaptada para ver crianças. Como em casa ele estava de prevenção, aos almoços e jantares era frequente estarmos todos à mesa e alguém telefonar a pedir indicações para o filho que estava doente. Era engraçado porque nós a certa altura já fazíamos apostas sobre o que ia ser com base nas respostas e perguntas que ele fazia.
O interesse surge aí?
Sim. Gostava daquilo mas havia um problema: se via sangue começava logo a tremer, por isso pensei que nunca iria para Medicina. Tanto que quando me fui inscrever no liceu escolho Direito, que era algo que também me interessava. Todo feliz vou para a paragem do autocarro, que terei perdido por uns instantes. É enquanto estou à espera pelo autocarro seguinte que tomo a decisão de voltar à secretaria, rasgar os papéis e inscrever-me para Medicina.
O que o fez voltar atrás?
Acho que foi pensar ‘não vou deixar de fazer o que quero por medo’. Não podia ser o facto de tremer ao ver sangue que me ia limitar na profissão. Nunca houve de facto pressão familiar, embora curiosamente toda a minha família do lado paterno, pai, avô e trisavô, tenham sido médicos.
Uma grande referência sua foi, contudo, o seu avô materno. O que o marca tanto?
A vida dele. Não conheci os meus avós paternos – o pai do meu pai já tinha morrido quando nasci e a mãe estava na Índia. Esse avô era realmente uma pessoa incrível, um homem da Renascença. Médico, oficial da Marinha, perito em história medieval italiana, em orientalismo. Foi secretário-geral da Sociedade de Geografia. Foi inventor! Inventou uma maca que permitia que duas pessoas transportassem um ferido em vez de quatro, ainda hoje ensinada na NATO. E fazia tudo discretamente. Não era um homem dos sete ofícios mas dos 70. Tive a sorte de ficar com o seu espólio quando a minha mãe morreu e ele tinha escrito memórias e apontamentos sobre a participação nas campanhas da República. Note-se que nasceu em 1881, foi mobilizado para derrotar Paiva Couceiro quando houve a tentativa de restaurar a Monarquia e depois esteve na Primeira Grande Guerra e nas campanhas de África. Era agnóstico e foi um dos únicos portugueses a ter autorização para consultar os arquivos secretos do Vaticano. Descubro tudo isto nas memórias, lá em casa o avô era o avô. Sabia que tinha estado em África mas não sabia nada sobre o seu pensamento religioso ou político. Achei esse processo de descoberta de uma pessoa fascinante, mais porque estava tudo escrito com uma letra irrepreensível. Era como se estivesse escrito em Word. Digo muito aos meus filhos: escrever é comunicar e é bom que, mesmo com os computadores, consigam rabiscar coisas que sejam entendíveis 100 anos depois.
Há algo desse avô no seu lado de cultivar vários ofícios, da escrita à música?
Não sei o que será genético, mas acho que esta vontade que tenho de fazer coisas é uma resposta a uma certa angústia existencial. É isto de sentir que há tanta coisa por fazer, ouvir, ler, escutar, aprender e ao mesmo tempo ver que a vida não é eterna.
Sente essa ânsia aumentar?
Sim, é aquela coisa de pensarmos que morremos velhinhos e isso a certa altura começa a cair por terra. Começam a morrer pessoas próximas de nós, da nossa idade, mais novas. Digo isto sem fatalismos. Ela anda aí e acho que isso deve ser uma força motivadora para tudo. Sinto sobretudo a ânsia de não perder tempo com coisas que não interessam. Durante muitos anos não fui capaz de dizer que não e agora já sou.
O que mudou nas doenças das crianças desde que começou a trabalhar?
Houve muitas mudanças em tudo. Quando comecei as crianças morriam de desidratação na sequência de uma gastroenterite. Em Peniche, no início dos anos 80, no serviço médico à periferia, chegava a fazer bancos em que entrava às 8 da noite de sexta-feira e estava até às 8 da manhã de segunda. Eram quase 72 horas de urgência e via-se de tudo: desde uma grávida em trabalho de parto, picadas de peixe-aranha e, se havia festas na aldeia, era quase certo que apareciam facadas e navalhadas.
Havia muitas situações de alcoolismo, mesmo em miúdos?
Sim, as sopas de cavalo cansado. Havia essa ilusão nas aldeias de que o álcool dava calor, o que ajudava a fazer frente ao frio. Claro que também havia miúdos que iam à garrafeira dos pais, quase para experimentar o menú dos adultos. Hoje é diferente. A bebida passou a ser vista quase como uma condição para estar contente e feliz. Há uma noção um bocado perversa do que estar feliz e contente implica dizer alarvices e fazer figura de palhaço...
Os pais levam essa preocupação ao consultório?
Sim, mas vejo sobretudo isso nos agrupamentos escolares. O álcool hoje aparece muito barato aos jovens. Até à volta de algumas escolas há happy hours de cerveja, imperiais a 60 cêntimos, o que fica mais barato que uma água ou um refrigerante.
Em termos de doenças, que diferenças se nota mais nas crianças?
Não nos podemos esquecer que somos campeões na redução da mortalidade infantil. Houve uma diminuição do peso das doenças infecciosas e há mais situações crónicas, seja perturbações do desenvolvimento, cancro e as consequências de violência e acidentes. Mas há muito mais problemas de saúde mental, se calhar porque as pessoas ligam também mais a isso, mas não digo só esquizofrenias e neuroses. Há mais casos de crianças que se sentem infelizes, tristes, deprimidas.
Crianças de que idade?
Quatro e cinco. No fundo miúdos deprimidos por se sentirem mal nos seus ecossistemas, mal em casa, muito fechados. São quatro paredes sem casa, no carro, no consultório. E muitas vezes tudo plastificado, mesmo os afectos.
Falta de amor que gera falta de amor-próprio?
Sim. Creio que o nosso discurso de adultos não contribui muito para uma boa auto-estima.
Que idade tinha a criança mais nova que viu com uma depressão?
Já vi depressões em bebés. Um bebé que não seja objecto de afecto explícito corre esse risco. Agora, o ser humano tem uma boa resiliência desde que perceba o que se passou.
Mas como se trata uma criança com depressão?
Primeiro é preciso descobrir o que a deprime, o que a traumatizou, magoou. Isso nem sempre é fácil. E depois é tentar fazê-la ver o lado bom da vida, o que às vezes não é fácil pois é residual.
Dizia que os adultos podem contribuir para esse fenómeno.
Sim, há duas coisas erradas que fazemos. Uma é criar a expectativa de uma vida maravilhosa que depois não se concretiza. Aquela pressão para ir para o quadro de honra, ter a camisa de marca. A outra coisa é precisamente o contrário, aquela atitude de “escusas de estar a esforçar-te para ser uma pessoa completa porque, das duas uma, ou vais ser um malandro ou a vítima do malandro.” É o que vemos no telejornal: a galeria de horrores em que se salta do malandro, para o assassino, o pedófilo, o ladrão, o corrupto, o mentiroso. Isto não é muito estimulante para quem está a crescer e acho que devemos, enquanto adultos, ter a preocupação de passar um quadro de liberdade do que é a vida adulta. Devemos dizer que há o malandro, a vítima do malandro e depois a terceira hipótese, que é a da generalidade das pessoas. Acho que os adultos se vitimizam um bocado e desfrutam pouco para estar obcecados com o que não têm e isso passa às crianças.
Os pais que o procuram hoje são diferentes de há 30 anos?
Sabem mais coisas. Sempre foram mas hoje assumem-se mais como os primeiros cuidadores dos filhos e os médicos vão perdendo felizmente aquela arrogância, aquilo de se achar que os pais não sabiam nada e o doutor é que era o bom. Antes, se os pais fossem ignorantes, saíam tão ignorantes como quando tinham chegado ao consultório porque nada era explicado ou então os médicos usavam um jargão impressionante. É aquela velha história de dizer ao doente quem tem espondiloartrose e não bicos de papagaio. Espondiloartrose é mais solene e às vezes isto ainda acontece... A medicina evoluiu muito pouco neste sentido.
Da humanização?
Sim, continua a haver este desfasamento entre uma ciência que não sendo exacta tem de ser muito rigorosa, mas que tem de saber ao mesmo tempo comunicar. Não será caso único, acontece o mesmo com a linguagem jurídica. Acho que se um diagnóstico ou uma terapêutica é um acto negocial, como uma lei é para ser seguida pelas pessoas, tem de ser antes de mais entendido.
Uma relação negocial em que sentido?
Se faço um diagnóstico ou prescrevo um antibiótico de oito em oito horas, e os pais questionam que por causa do infantário têm receio que a educadora falhe, tenho de ver se há alternativa, se pode ser de 12 em 12. Tem de haver um entendimento mínimo para haver um compromisso e as coisas funcionarem.
Essa desumanização da medicina resulta de quê? De as notas pesarem mais na entrada para o curso do que a vocação?
Serão vários motivos. Um é esse: alguns vão para Medicina pela nota e depois 10% desistem – era o que eu via na Faculdade de Ciências Médicas e com pena, pois, se calhar, tinham tirado a vaga a outros com vocação. Mas acho também que o ensino da Medicina continua muito centrado na doença. Aliás, começa nisto de falar das pessoas que vão ao médico como doentes mesmo quando estão óptimas de saúde. É totalmente errado. Pode estar-se doente mas não se deixa de ser pessoa.
Serão vários motivos. Um é esse: alguns vão para Medicina pela nota e depois 10% desistem – era o que eu via na Faculdade de Ciências Médicas e com pena, pois, se calhar, tinham tirado a vaga a outros com vocação. Mas acho também que o ensino da Medicina continua muito centrado na doença. Aliás, começa nisto de falar das pessoas que vão ao médico como doentes mesmo quando estão óptimas de saúde. É totalmente errado. Pode estar-se doente mas não se deixa de ser pessoa.
Utente, paciente, a pessoa, cliente. Não sei, há tantos termos... Seria
preciso inventar algum. Chamar doente expressa já uma relação de poder,
de superioridade. A medicina continua muito arrogante nesse sentido. Sem
emitir juízos de valor, eis o que se passa: um animal doente, neste
caso em particular um ser humano ainda para mais capaz de racionalizar,
sente-se mal. De imediato surge o medo da morte. É só um espirro, mas o
Zé também espirrou e era um cancro. Depois, passa a possibilidade de se
arranjar sozinho. Já tomou a aspirina e não resultou e os amigos também
não ajudaram. É aí que, com um grande ponto de interrogação por cima da
cabeça, se vai procurar o médico.
E é um confronto?
Nesse momento já está a jogar fora de casa, no campo do adversário. Chega-se lá e encontra pessoas completamente à vontade, que usam bata branca e outras coisas assim, quase a dar um ar de seres imaculados, de anjos salvadores. Que por vezes tratam com displicência e que sabem coisas que o próprio não sabe. E informação é poder. E depois há outro factor...
O suspense?
Sim, olhar para radiografia ou exame dizer “humm... tem aqui uns valores fora do normal, mas pode ser uma variante.” Instala-se a dúvida e o ser humano dá-se muito mal com as situações ambíguas: quer o sim ou sopas. Mas há mais pormenores nos hospitais que reforçam essa relação desigual. Porque é que as luzes são brancas? As luzes brancas amedrontam quem está deitado a olhar para elas.
Não é para os médicos verem melhor?
Quando isso é preciso mete-se um foco maior e geralmente até é amarelo. A luz branca não faz sentido. Justifica-se num quartel de bombeiros pelo estado de alerta em que têm de estar. Agora numa situação de doença, a restituição de cor é fundamental para a pessoa se sentir bem e aquela luz branca do hospital faz a pessoa sentir-se mais verde. O doente que já está anémico e a sentir-se mal ainda se sente pior, mais cadavérico. Depois está deitado, que é uma posição de fraqueza. Qualquer animal de pé tem superioridade. Se o Mike Tyson estiver deitado o primeiro murro é meu, mesmo que seja só o primeiro. Mas a despersonalização nos hospitais chega a pontos inadmissíveis.
O que o incomoda mais?
Tira-se o nome à pessoa, é o doente da cama 53. E não é o doente Há o reforço da situação de acamado. A cama é que é a entidade, quem lá está é indiferente – hoje é o Manuel, amanhã o José. E finalmente há o retirar dos pertences e da roupa para se usar as batas hospitalares, que geralmente até são ridículas. Uma pessoa até fica meio exposta. É uma atitude de despersonalização exactamente igual ao que se faz em Guantánamo, nos campos de concentração ou o Estado Islâmico com as fardas cor de laranja.
Mas é propositado para reforçar essa relação desigual?
É um hábito em já devíamos ter evoluído. Mal a pessoa entra tira os brincos e o relógio. Porquê? Não interessa se os brincos valem milhões ou não. Se a pessoa os usa e leva terão um significado. Acho esta despersonalização terrível, sobretudo quando os estudos até dizem que a roupa hospitalar tem muito mais bactérias patogénicas e multirresistentes do que a nossa.
É visto como um alien por ter estas opiniões?
Se calhar. Já comprei algumas guerras, mas não me inibo de dizer aquilo que penso. Podem demonstrar-me que estou errado, mas até lá acredito que há um juramento por parte dos médicos que passa por defender as pessoas e não cultivar um lugar de poder e aquela coisa um bocado medieval de que somos uns alquimistas. É chegar ao ponto de, como alguém afirmou, dizer que a diferença entre Deus e os médicos é que Deus não é médico. Para mim, somos apenas uns profissionais que aprendem umas coisas sobre uma máquina e desconhecemos outras. Não somos delegados de Deus na Terra.
O que tem de mudar?
Tem de haver um exercício de humildade – e é preciso dizer que muitos já o fazem – e ver a medicina como negociação. Um médico que tem uma ruptura de um cano em casa, chama o canalizador e pergunta qual é o problema, quanto custa, qual é a solução e o canalizador não responde “esteja quieto enquanto eu tomo conta disto”. Se isso acontece, o médico chama outra empresa. Tem de haver a obrigação de explicar o que vai fazer, porquê e quais são os efeitos secundários. Não é por acaso que muitas vezes um doente hospitalizado sente mais proximidade com os auxiliares de limpeza e com os enfermeiros do que com os médicos.
A tecnologia agravou esta desconsideração?
Acho que a Medicina tem vindo a perder com o aumento das ferramentas. Os médicos ainda não perceberam que a tecnologia devia fazê-los mais humanos e não transformá-los em robôs. Estou agora a rever um livro que fiz com biografias de médicos, desde o Imhotep no Antigo Egipto a Carlos Paião. No fundo são pessoas que foram mais do que médicos e têm em comum essa atitude de dedicação aos outros além do rigor e interesse científico. O meu avô também tem uma história incrível: uma vez numa dessas escaramuças com as tropas de Paiva Couceiro ouviu um raspanete do chefe que lhe disse que ele era médico e por isso tinha de ficar na retaguarda. Ele respondeu: precisamente por ser médico tenho de estar na linha da frente. Ainda levou com um processo mas o ministro da guerra da altura viria a transformá-lo num louvor.
Os pais devem assistir aos partos?
Costumo dizer que não devem assistir, pois devem participar.
Isso não se tornou também quase uma obrigação?
Acho que faz sentido vivenciarem esse momento, no sentido de serem tão progenitores como a progenitora. Tento desmistificar um pouco, por exemplo, o receio de que vão ver sangue e cair para o lado. Não vão ver sangue algum. Vão sentir a transcendência do nascimento.
Mas não há casais que perdem o desejo sexual por causa disso?
Sim, mas isso é porque se assiste do lado errado. Isso, as câmaras a registar tudo e as selfies dá-me um bocado urticária. O que se passa do lado de lá do pano, nos bastidores, compete à equipa médica. Mesmo isso de cortar o cordão umbilical acho um pouco esdrúxulo, mas quem quiser que corte. O que acho importante é partilhar aquele momento de choro, que não é bem choro, mas uma explosão de vida.
Esteve presente no nascimento dos seus cinco filhos?
Sim e emocionei-me de igual forma em todos. No quarto e quinto, gémeos, foi como se fosse o primeiro. Não consigo arranjar adjectivos.
Foram os momentos mais emocionantes da sua vida?
É difícil comparar momentos. Há várias latitudes de sentimentos. É como perguntar-me qual foi o melhor livro ou o melhor filme. Mas definitivamente foram momentos transcendentes. A morte dos nossos pais e o nascimento dos nossos filhos são talvez os momentos em que nos sentimos mais no centro do epifenómeno que é a vida, que ao mesmo tempo sabemos cada vez menos o que é.
Como se consegue distanciar de uma criança que está a sofrer muito e acaba por morrer?
Sofre-se muito mas temos de ter consciência em que há situações em que não conseguimos fazer nada. Quando comecei 90% das crianças com leucemia morriam e hoje 90% curam-se, isto em 30 anos. A medicina avança com passos de gigante mas ainda há casos incuráveis em que o médico pode fazer muito pouco.
Estas situações vão com o médico para casa?
Claro. Como não trabalho há muitos anos no hospital, não tenho muitos casos desses. Agora acho que uma pessoa nunca se habitua... Fica sempre a dúvida: será que poderia ter feito alguma coisa? E foi isso se calhar que me fez entrar pelos caminhos da prevenção, pensar se poderia ter feito alguma coisa para evitar ter ali aquela criança politraumatizada.
Disse que os pais sabem mais, não são também mais stressados?
Têm mais informação – o doutor Google sabe tudo – mas também stressam mais. Não é necessariamente mau, pois mostra preocupação em relação aos filhos. Mas noto que os pais hoje se sentem também muito culpabilizados por trabalharem, sem razão porque sempre trabalharam. A grande questão era não ser contínuo: trabalhavam mas estavam por ali. Hoje uma mãe sai de casa e está não sei quantas horas ausente. Feitas as contas, as horas de trabalho até podem ser as mesmas, mas é uma organização da vida diferente e isso faz com que as mães sintam que abandonam os filhos, o que é mentira.
Como se resolve?
Entendendo que desde o corte do cordão umbilical se inicia uma relação de autonomização. Que não é independência, mas interdependência. Ser mãe é uma das peças da vida da mulher, uma naturalmente importante, mas não é a única peça. Uma coisa para a qual incentivo muito os pais é para não ficarem claustrofóbicos em relação às crianças. Têm de ter vida conjugal, saírem para jantar, ir ao cinema, terem vida própria.
Vai fazer 60 anos. Tem energia para três filhos ainda relativamente pequenos?
Os gémeos fazem 12, o outro a seguir tem 13. Acho que sim. Tentamos educá-los para terem responsabilidade e serem autónomos.
Fez algum ajuste em relação aos primeiros filhos?
Quando tive o primeiro tinha 23 anos, com estes tinha 46 e 48. No essencial acho que não mudei muito. A minha vida mudou, claro. No primeiro estava a começar a carreira e nestes não digo que vou no fim, mas está mais adiantada. Mas em relação às tecnologias e tudo isso, a política tem sido semelhante. E gosto de ver o meu filho mais velho que tem três filhas, e a minha filha, com dois, seguirem um modelo educativo com muitas semelhanças ao que usei com eles. Isso dá-me alguma satisfação.
E é um confronto?
Nesse momento já está a jogar fora de casa, no campo do adversário. Chega-se lá e encontra pessoas completamente à vontade, que usam bata branca e outras coisas assim, quase a dar um ar de seres imaculados, de anjos salvadores. Que por vezes tratam com displicência e que sabem coisas que o próprio não sabe. E informação é poder. E depois há outro factor...
O suspense?
Sim, olhar para radiografia ou exame dizer “humm... tem aqui uns valores fora do normal, mas pode ser uma variante.” Instala-se a dúvida e o ser humano dá-se muito mal com as situações ambíguas: quer o sim ou sopas. Mas há mais pormenores nos hospitais que reforçam essa relação desigual. Porque é que as luzes são brancas? As luzes brancas amedrontam quem está deitado a olhar para elas.
Não é para os médicos verem melhor?
Quando isso é preciso mete-se um foco maior e geralmente até é amarelo. A luz branca não faz sentido. Justifica-se num quartel de bombeiros pelo estado de alerta em que têm de estar. Agora numa situação de doença, a restituição de cor é fundamental para a pessoa se sentir bem e aquela luz branca do hospital faz a pessoa sentir-se mais verde. O doente que já está anémico e a sentir-se mal ainda se sente pior, mais cadavérico. Depois está deitado, que é uma posição de fraqueza. Qualquer animal de pé tem superioridade. Se o Mike Tyson estiver deitado o primeiro murro é meu, mesmo que seja só o primeiro. Mas a despersonalização nos hospitais chega a pontos inadmissíveis.
O que o incomoda mais?
Tira-se o nome à pessoa, é o doente da cama 53. E não é o doente Há o reforço da situação de acamado. A cama é que é a entidade, quem lá está é indiferente – hoje é o Manuel, amanhã o José. E finalmente há o retirar dos pertences e da roupa para se usar as batas hospitalares, que geralmente até são ridículas. Uma pessoa até fica meio exposta. É uma atitude de despersonalização exactamente igual ao que se faz em Guantánamo, nos campos de concentração ou o Estado Islâmico com as fardas cor de laranja.
Mas é propositado para reforçar essa relação desigual?
É um hábito em já devíamos ter evoluído. Mal a pessoa entra tira os brincos e o relógio. Porquê? Não interessa se os brincos valem milhões ou não. Se a pessoa os usa e leva terão um significado. Acho esta despersonalização terrível, sobretudo quando os estudos até dizem que a roupa hospitalar tem muito mais bactérias patogénicas e multirresistentes do que a nossa.
É visto como um alien por ter estas opiniões?
Se calhar. Já comprei algumas guerras, mas não me inibo de dizer aquilo que penso. Podem demonstrar-me que estou errado, mas até lá acredito que há um juramento por parte dos médicos que passa por defender as pessoas e não cultivar um lugar de poder e aquela coisa um bocado medieval de que somos uns alquimistas. É chegar ao ponto de, como alguém afirmou, dizer que a diferença entre Deus e os médicos é que Deus não é médico. Para mim, somos apenas uns profissionais que aprendem umas coisas sobre uma máquina e desconhecemos outras. Não somos delegados de Deus na Terra.
O que tem de mudar?
Tem de haver um exercício de humildade – e é preciso dizer que muitos já o fazem – e ver a medicina como negociação. Um médico que tem uma ruptura de um cano em casa, chama o canalizador e pergunta qual é o problema, quanto custa, qual é a solução e o canalizador não responde “esteja quieto enquanto eu tomo conta disto”. Se isso acontece, o médico chama outra empresa. Tem de haver a obrigação de explicar o que vai fazer, porquê e quais são os efeitos secundários. Não é por acaso que muitas vezes um doente hospitalizado sente mais proximidade com os auxiliares de limpeza e com os enfermeiros do que com os médicos.
A tecnologia agravou esta desconsideração?
Acho que a Medicina tem vindo a perder com o aumento das ferramentas. Os médicos ainda não perceberam que a tecnologia devia fazê-los mais humanos e não transformá-los em robôs. Estou agora a rever um livro que fiz com biografias de médicos, desde o Imhotep no Antigo Egipto a Carlos Paião. No fundo são pessoas que foram mais do que médicos e têm em comum essa atitude de dedicação aos outros além do rigor e interesse científico. O meu avô também tem uma história incrível: uma vez numa dessas escaramuças com as tropas de Paiva Couceiro ouviu um raspanete do chefe que lhe disse que ele era médico e por isso tinha de ficar na retaguarda. Ele respondeu: precisamente por ser médico tenho de estar na linha da frente. Ainda levou com um processo mas o ministro da guerra da altura viria a transformá-lo num louvor.
Os pais devem assistir aos partos?
Costumo dizer que não devem assistir, pois devem participar.
Isso não se tornou também quase uma obrigação?
Acho que faz sentido vivenciarem esse momento, no sentido de serem tão progenitores como a progenitora. Tento desmistificar um pouco, por exemplo, o receio de que vão ver sangue e cair para o lado. Não vão ver sangue algum. Vão sentir a transcendência do nascimento.
Mas não há casais que perdem o desejo sexual por causa disso?
Sim, mas isso é porque se assiste do lado errado. Isso, as câmaras a registar tudo e as selfies dá-me um bocado urticária. O que se passa do lado de lá do pano, nos bastidores, compete à equipa médica. Mesmo isso de cortar o cordão umbilical acho um pouco esdrúxulo, mas quem quiser que corte. O que acho importante é partilhar aquele momento de choro, que não é bem choro, mas uma explosão de vida.
Esteve presente no nascimento dos seus cinco filhos?
Sim e emocionei-me de igual forma em todos. No quarto e quinto, gémeos, foi como se fosse o primeiro. Não consigo arranjar adjectivos.
Foram os momentos mais emocionantes da sua vida?
É difícil comparar momentos. Há várias latitudes de sentimentos. É como perguntar-me qual foi o melhor livro ou o melhor filme. Mas definitivamente foram momentos transcendentes. A morte dos nossos pais e o nascimento dos nossos filhos são talvez os momentos em que nos sentimos mais no centro do epifenómeno que é a vida, que ao mesmo tempo sabemos cada vez menos o que é.
Como se consegue distanciar de uma criança que está a sofrer muito e acaba por morrer?
Sofre-se muito mas temos de ter consciência em que há situações em que não conseguimos fazer nada. Quando comecei 90% das crianças com leucemia morriam e hoje 90% curam-se, isto em 30 anos. A medicina avança com passos de gigante mas ainda há casos incuráveis em que o médico pode fazer muito pouco.
Estas situações vão com o médico para casa?
Claro. Como não trabalho há muitos anos no hospital, não tenho muitos casos desses. Agora acho que uma pessoa nunca se habitua... Fica sempre a dúvida: será que poderia ter feito alguma coisa? E foi isso se calhar que me fez entrar pelos caminhos da prevenção, pensar se poderia ter feito alguma coisa para evitar ter ali aquela criança politraumatizada.
Disse que os pais sabem mais, não são também mais stressados?
Têm mais informação – o doutor Google sabe tudo – mas também stressam mais. Não é necessariamente mau, pois mostra preocupação em relação aos filhos. Mas noto que os pais hoje se sentem também muito culpabilizados por trabalharem, sem razão porque sempre trabalharam. A grande questão era não ser contínuo: trabalhavam mas estavam por ali. Hoje uma mãe sai de casa e está não sei quantas horas ausente. Feitas as contas, as horas de trabalho até podem ser as mesmas, mas é uma organização da vida diferente e isso faz com que as mães sintam que abandonam os filhos, o que é mentira.
Como se resolve?
Entendendo que desde o corte do cordão umbilical se inicia uma relação de autonomização. Que não é independência, mas interdependência. Ser mãe é uma das peças da vida da mulher, uma naturalmente importante, mas não é a única peça. Uma coisa para a qual incentivo muito os pais é para não ficarem claustrofóbicos em relação às crianças. Têm de ter vida conjugal, saírem para jantar, ir ao cinema, terem vida própria.
Vai fazer 60 anos. Tem energia para três filhos ainda relativamente pequenos?
Os gémeos fazem 12, o outro a seguir tem 13. Acho que sim. Tentamos educá-los para terem responsabilidade e serem autónomos.
Fez algum ajuste em relação aos primeiros filhos?
Quando tive o primeiro tinha 23 anos, com estes tinha 46 e 48. No essencial acho que não mudei muito. A minha vida mudou, claro. No primeiro estava a começar a carreira e nestes não digo que vou no fim, mas está mais adiantada. Mas em relação às tecnologias e tudo isso, a política tem sido semelhante. E gosto de ver o meu filho mais velho que tem três filhas, e a minha filha, com dois, seguirem um modelo educativo com muitas semelhanças ao que usei com eles. Isso dá-me alguma satisfação.
Os seus filhos mais novos já têm telemóvel?
Já, mas muito limitado – tanto que se esquecem dele. E não têm consolas.
Não pediram?
Pediram e eu disse que não, como disse aos Game Boy dos outros. Mas
disse que não sem ser uma raiva cega. Simplesmente achei que seria
altamente viciante. Qualquer jogo é viciante e com esse tipo de jogos
apetece sempre mais um – seja para continuar a ganhar ou para recuperar
da derrota. Sendo uma coisa tão limitada e que não exercita os cinco
sentidos, achei que seria muito difícil controlar a fera e decidi que
não.
Cometeu alguns erros?
Sei que por vezes gritei quando não devia ter gritado e posso ter
feito um charivari por coisas secundárias. Injustiças ao ponto de vista
dos traumatizar creio que não, mesmo que possa ter sido injusto. Mas
sempre que tive noção disso pedi desculpa.
E palmadas?
Quando eles eram miúdos – assim com um, dois ou três anos – e não
entendiam muito bem a comunicação oral, às vezes usei o enxota moscas.
Não tenho problemas nenhuns com isso. Acho que é muito diferente bater
numa pessoa, numa criança, na cara – o que é atingir a pessoa – do que
dar uma palmada na mão ou no rabo se a criança testa o limite e vai
mexer em algo que estamos fartos de dizer que não é para mexer. É
preciso mostrar que há limites e tem de haver limites em tudo na nossa
vida.
Quais são os maiores erros dos pais?
Medo de educar, medo de traumatizar. Caricaturando, aquela coisa do
“se educo agora ele depois ainda se mete na droga”. Não tem de ser nada
assim. Na altura os filhos podem ficar abespinhados, mas mais tarde
agradecem ter sido educados.
O sentimento de culpa de que falava não dificulta esse exercício?
Sim, mas de facto o triângulo pai-mãe e filho no vértice em baixo é
para ser usado. As crianças precisam de sentir que há alguém que sabe
navegar o barco se houver tempestade.
Como tem tempo para escrever tanto e livros com centenas de páginas?
Fui escrevendo ao longo da vida muitos artigos para os jornais, para a
revista “Pais & Filhos” e fui guardando as coisas, que compilo. Mas
gosto muito de escrever, faço-o desde a infância. Aos dez anos tinha um
jornal. Batia à máquina um exemplar e o meu irmão que é 14 anos mais
velho do que eu, e meu padrinho, financiava cinco fotocópias.
Como se chamava o jornal?
“Trapalhadas”. Saíram aí uns 10 ou 15 números com uma secção de
internacional, outra nacional e outra para gozar com as minhas irmãs.
Mais umas palavras cruzadas. Noutro dia estive a reler e é engraçado que
há coisas que não sabia onde ia buscar, não tendo uma família muito
politizada. Do género esta adivinha: “quando o comunismo for implantado
nos EUA, será do tipo soviético ou chinês?”. Não me consigo lembrar de
como é que aos dez anos tinha noção disto.
Tem muita coisa guardada?
De mais, precisava de ter outra casa para encher de livros e mais livros. Sou um leitor compulsivo.
E melómano. Que banda-sonora escolheria para o momento que estamos a viver?
Não sei, há tanta coisa. A Europa faz-me um bocado de confusão.
Escrevi um poema em 2004 quando foram os atentados da Atocha em que já
mostrava desilusão em relação à Europa. A destruição de ideais é uma
coisa que me impressiona muito. Não compro muito os “amanhãs que
cantam”, mas quando se vê a finança a matar tudo, a matar a
solidariedade, dá muito que pensar. Quanto é que um dia vai custar olhar
para o mar?
E sobre o que se passa cá dentro, o que sente?
Com toda a franqueza, espero que haja mudanças. Não sei quais, nem
como, nem em que é que vai dar. Há uma coisa que me faz espécie que é a
mentira. A mentira deliberada, tentando enganar o outro. Assim como o
alijar de responsabilidades. Estes casos que temos visto ultimamente e
as comissões de inquérito, todo esse rol de conselhos fiscais que não
sabiam de nada, administradores que não sabiam de nada... A certa altura
é um bocado impressionante que ninguém soubesse de nada, com os custos
terríveis que isso teve para o país.
Não foi convidado agora para cabeça de lista do PS? Há figuras inesperadas até do mundo académico.
Não. Não faz o meu estilo. Estou como Oscar Wilde, que creio que
dizia que se entrasse num partido saía de lá no dia seguinte. Sou
incapaz de reverências e de ir contra a minha consciência.
Até quando quer trabalhar?
Tenciono trabalhar até ao dia em que reconheça que já não quero ou
que alguém por mim tenha a bondade de dizer “cuidado” porque já não
estou capaz, porque às vezes as pessoas não dão por isso. Acho que deve
haver uma idade mínima de reformas, mas alguma flexibilidade. Duas
pessoas que morreram recentemente, Maria de Jesus Barroso e a pediatra
Maria de Lourdes Levy, que trabalharam praticamente até ao último dia de
vida, ainda que com outro ritmo. Mas também não se vive só para
trabalhar.
Ainda dá consulta todos os dias?
Sim, mas tenho duas tardes por semana livres. Acabei agora um curso
de História de Arte na Sociedade Nacional de Belas Artes. A minha mulher
desafiou-me e foi óptimo: era todas as terças entre as 18h30 e as
20h30. Com o caderninho de apontamentos, entrava ali e o resto da vida
desaparecia. E era estar duas horas a ouvir e ver coisas bonitas e
depois chegar a casa e explorar mais. Não tem nada a ver com a minha
profissão, mas deu-me imenso prazer. Toco piano e agora vou aprender
violino – o meu filho Eduardo desafiou-me e vou. Não vai ser para ir
para o CCB dar concertos mas gosto de aprender.
Com tantos interesses, tem uma lista de coisas a fazer antes de morrer?
Não, é só viver mais, chatear-me menos com coisas que não vale a pena
e fazer o que me dá prazer. Ainda ontem fui passear pelas veredas com a
cadelinha, a ouvir música e tirar fotografias. E a minha mulher diz-me
logo “quantas vezes já fotografaste o batatal?”. Não é o mesmo batatal,
todos os dias há uma luz diferente.
É o seu segundo casamento.
Sim, estamos juntos há oito anos.
Foi fácil gerir o divórcio com os filhos?
As crianças não ligam muito às questões dos adultos.
Mas os divórcios não podem ser traumáticos?
Como qualquer evento pode ser traumático – o nascimento de um irmão,
uma mudança de escola. Se a criança se sentir ameaçada, o sistema de
alerta é activado. Se não se sentir ameaçado a vida continua
serenamente.
Como fizeram?
Tentámos minorar os estragos. Tentámos que eles sentissem sobretudo
que são amados, que têm um percurso de vida. E mesmo a entrada em cena
de outras pessoas, as madrastas e padrastos – com tanta má fama pela
história da Branca de Neve – são pessoas que podem ter um papel na vida
dos miúdos, que só querem sentir-se amados e orientados.
Qual é a idade mais fascinante nas crianças?
Todas. O que me entusiasma é ver a evolução deles e sentir que de
alguma forma posso mudar alguma coisa em alguém. O que se calhar tem a
ver com essa angústia existencial com que lido, uns dias mais facilmente
e outros menos. Essa revolta ou essa constatação de que o tempo é tão
pouco para tanta coisa. Eu e o tempo esgrimimos uma terrível luta e,
muitas vezes, o criar, o escrever, o intervir é tentar deixar uma marca.
Nem que seja como as pegadas na areia, como escrevi no meu livro sobre o
meu cão. O mar virá e apaga os vestígios da nossa passagem mas, de vez
em quando, é bom viver a ilusão da perenidade.
Que marca gostava de deixar?
Não sei. Não sei o nome dos meus trisavôs, por isso o nome não será.
As obras são perecíveis – a biblioteca de Alexandria ardeu. As coisas
são perecíveis, mas acho que estamos vivos enquanto perduramos na
memória de alguém e daí ter feito o livro do meu avô e este dos médicos,
para que estas pessoas e o que fizeram fique na memória de alguém.
E a sua biografia?
Se alguém a fizer não serei eu. Mas tenho vários projectos. Estou a
escrever algumas considerações sobre a finitude da vida. O primeiro
apontamento é sobre Eva Cassidy, estava noutro dia a ouvir o último
concerto dela e quando ela canta “What a Wonderful Day” e “Fields of
Gold” é de alguém que sabia que não tinha mais um mês de vida.
Teme a morte?
Não, embora não seja crente numa vida depois da morte. Sou agnóstico.
Fui educado na religião católica mas acho que as igrejas são feitas de
homens com vícios de poder e não gosto, como não gosto de sociedades
secretas e corporativismo. Prefiro ser um livre pensador. Não sei o que
se vai passar, mas não gosto de sofrer e sei que algumas mortes são
muito dolorosas. Acima de tudo tenho uma enormíssima pena da finitude da
vida.
Para estes dias de férias o que trouxe?
Muitas coisas. Ontem li dois livros.
Dois?
Estava nevoeiro e enquanto as crianças jogavam ping-pong e estavam na
piscina foi o que fiz. Li a Encíclica do Papa Francisco sobre ambiente e
gostei muito. Lá está, usa uma linguagem coloquial, entendível. É uma
pessoa por quem tenho uma enorme consideração, até pela despreocupação
dele, mesmo parecendo que está toda a gente à procura de lhe apontar
falhas. O outro livro foi o do Ruy de Carvalho sobre a relação dele com a
cadela que morreu há um ano. Consegue ser comovente sem ser lamechas.
E tem escrito?
Sim, estou a terminar um livro de poemas sobre amor dedicado à minha
mulher e tenho um romance que escrevi há quase 30 anos e tem estado na
cabeça.
Como consegue agora expor-se assim, até nesses textos?
Já deixei de pensar muito naquilo que as pessoas acham de mim. Sou o
que sou, carrego os fantasmas do passado e o meu presente para o futuro
e, quem gostar, gosta; quem não gostar, não gosta. O que importa é dar
sempre o melhor, nem que seja os 3500 caracteres na crónica no i. Claro
que quando escrevo são 35 mil caracteres mas é um exercício de
aperfeiçoamento. Na poesia também é isso: conseguir mostrar ideias,
sentimentos e conceitos com uma contenção de palavras e gramatical
enorme.
Aprendeu mais como pai do que na Medicina?
Aprendi muito como pai, mas também tive de aprender técnica. Na vida
são precisos quatro t’s: talento, técnica, trabalho e tempo. Sem isso
não se vai a lado nenhum. Nada se faz sem trabalho nem sem tempo.
Qual foi a sua maior aprendizagem?
Tornar-me menos radical na emissão de juízos sobre os outros. As
pessoas têm facetas boas, facetas más. Acho hoje essa compreensão
sistémica da vida muito mais interessante do que emitir juízos de
carácter. E quando as pessoas me desiludem, simplesmente afasto-me.
Gosto da ideia do Júlio Machado Vaz de que, mais do que a família, é a
tribo que construímos que importa, o leque de afectos. Mesmo que as
pessoas estejam longe e não me lembre do dia que fazem anos e só ligue
depois. Lembrar-me porque o telemóvel manda não quero. Há o risco de nos
transformarmos em páginas de Facebook ambulantes e não quero isso para
mim, ser daquelas pessoas que já não conseguem dizer se gostam do
momento sem tirar uma selfie e ver o número de likes.
As suas primeiras recordações são em férias?
Sim, e curiosamente a primeira não é muito agradável. Estávamos a
passar férias em Sintra e eu devia ter uns quatro anos. Lembro-me de
cair, ferir-me num joelho e ir a correr ter com a minha mãe a chorar.
Lembro-me de ela me pôr o mercurocromo, que se usava na altura. É como
se fosse ontem. Logo a seguir, talvez no mesmo Verão, lembro-me de um
dia à saída da igreja de São Pedro, em Sintra, perder-me dos meus pais. É
uma sensação horrível. Uma senhora lá me viu, conhecia os meus pais e
levou-me até eles. Quando os vi tive uma crise de choro e como
recompensa deram-me um carrinho.
Esta zona da Lourinhã como surge na sua vida?
Quando me formo venho fazer o serviço médico à periferia a Óbidos mas
fico a viver na Lourinhã. Naquele tempo todos os médicos faziam esse
estágio de medicina familiar, uma escola de aprendizagem fantástica.
Acho que só aí, depois de dois anos em Santa Maria, é que senti que, se
um dia qualquer não fosse trabalhar, faria mesmo falta às pessoas.
Onde cresceu?
Em Lisboa, víviamos no Restelo. Sou o mais novo de oito irmãos. Tenho
um irmão mais velho, depois seis raparigas e por fim eu. É uma
sanduíche.
Era o boneco das meninas?
Não muito. É uma ideia que se pinta um bocado dos mais novos, mas não
é bem a recordação que tenho. Quando há muitos irmãos há cumplicidade,
mas também há alguma rivalidade. Senti-me, por vezes, um bocadinho à
parte.
Isolava-se?
Sempre fui muito tímido. Tinha dificuldade em abordar alguém, em
responder. Quando um professor dizia para pôr o dedo no ar e responder
eu evitava. E não era por não saber, mas por não querer que olhassem
para mim.
Já tem contado que era também mais pequeno do que os outros.
Sim, cresci tarde e via-o como um handicap. E ainda hoje
profissionalmente sou solidário com os rapazes que crescem tarde. Tinha,
felizmente, um companheiro de infortúnio que era o Carlos Ruah, também
médico, pai da Daniela. Fomos sempre amigos e naquela altura, pelo
menos, éramos dois contra aquelas torres.
Apanhavam dos maiores?
Isso não. Andei no liceu público, no Pedro Nunes. Naturalmente havia
zaragatas, mas nada que fosse um crime. Era quase sempre questões em
torno do Benfica/Sporting, aquelas coisas típicas do “foi golo ou não
foi”, “o árbitro foi um ladrão”.
Não era bulliyng.
Não. Quando muito os que estavam em oposição pegavam-se e os outros
faziam um circulo à volta a incentivar. Depois aparecia o contínuo e
separava-os. Ainda assim, a sensação que tenho é que mesmo esse grupo
que se juntava, se aquilo descambasse, intervinha. Havia uma certa
solidariedade entre todos e ninguém sofria muito – era uns arranhões
aqui e ali. Nunca dei por bullying como se fala hoje e, se calhar, agora
também se exagera. Confunde-se este tipo de situações normais na
relação interpessoal em grupo com violência.
Do Liceu Pedro Nunes saíram muitas figuras públicas.
Sim, fui colega de alguns.
Por exemplo?
Do Marcelo Rebelo de Sousa. É mais velho que eu mas ainda andámos
dois anos ao mesmo tempo no liceu. Ele gostava muito de cinema e, uma
vez, com uma daquelas câmaras – que hoje seriam uma relíquia histórica –
decidiu fazer um filme sobre um dia no liceu. Como era colega de turma
do irmão dele, lá participei e entrávamos a chegar, a subir as escadas.
Um dia, passados largos anos, chamou-nos para ver o filme e foi muito
engraçado rememorar aqueles tempos. Fui também colega do Luís Nobre
Guedes, do João Carlos Espada, de muita gente.
Na altura ainda era um liceu só de rapazes?
Sim. No 7.º ano – actual 11.º, na altura o último ano – havia
autorização para 10% de raparigas, mas na realidade eram só três. Eram
assim umas regras um bocado exóticas...
Acabavam por ir espiar as raparigas?
Não era bem espiar… Os liceus masculinos eram o Pedro Nunes, o
Camões, o D. João de Castro e o Passos Manuel. Os femininos eram o Maria
Amália, o Dona Leonor e o Filipa de Lencastre. E era no Filipa que
estavam as raparigas mais giras.
A sua infância tem imagens de alguma dor: física, perder-se dos pais e ser pequeno.
Também tenho memórias positivas! Não acredito naquele estado de
felicidade pura, talvez só se uma pessoa fizer um shot de heroína e é
por meia hora se não correr mal… Acredito em momentos felizes e até acho
que os momentos menos felizes ajudam a degustar melhor os felizes.
Tenho muitos momentos felizes associados, sobretudo, a espaço. Ao
crescer numa moradia com espaço, andar de bicicleta, andar na cowboiada.
Tudo sempre muito ligado à natureza, fosse a subir às árvores ou a
jogar futebol. No fundo, como vejo agora os meus filhos fazer. Ainda
hoje me sinto um bocado enclausurado em espaços fechados.
Pegando na crónica que escreveu há dias no i, sobre a saga do
clube dos meninos de camisa Lacoste no liceu, de que forma é que o seu
pai cultivou o não ir atrás da carneirada?
O meu pai tem um percurso muito giro. Veio da Índia sozinho aos 14
anos, isto em 1926, para estudar no Pedro Nunes, curiosamente, fez o 6.º
e o 7.º num ano e entrou na faculdade de Medicina com 15 anos. Cultivou
sempre um enorme ascetismo, para ele tudo o que fosse desperdício era
errado. Tudo o que não fosse ser frugal, como comprar sem motivo, não
fazia sentido. Se lhe tivesse dado um argumento bom, talvez me tivesse
comprado a camisa. Mas ele habituou-nos sempre a esse exercício.
De alguma austeridade?
Sim, nesse sentido de não ter mais do que aquilo que se justificava.
Mas é engraçado que havia coisas que podíamos pedir. Tudo o que fosse
aprendizagem, como aulas de línguas, e viagens. Fiz interrail quatro
anos. Claro que não era viagem em primeira classe e hotel de luxo, mas
isso ele deu-nos.
Fez os interrails perto do 25 de Abril, não?
O primeiro foi mesmo em 1974, no Verão. Fui nesse ano à Checoslováquia e entrar não foi propriamente fácil…
Que imagens tem dessa primeira grande viagem?
Éramos um grupo de seis ou sete e o mais forte era aquela sensação de
liberdade, de acordarmos em Oslo e, se nos apetecesse, ir até Roma era
só apanhar o comboio. De resto, já se notavam enormes diferenças entre
uma Eslovénia, rica e com supermercados e mini-mercados, de uma
Montenegro ou Letónia onde a vida não era fácil. E lembro-me bem de, no
comboio de Viena para Praga, sermos revistados de cima abaixo na
fronteira e depois aparecerem uma guardas – assim umas mulheres de dois
metros de altura que pareciam lutadoras de sumo – a fazer aquela cena de
olhar várias vezes para o passaporte e para a nossa cara e fazer um
compasso de espera antes de dizer “tome”. Aquele suspense Hitchcockiano…
A timidez aí já tinha desaparecido?
Ia desaparecendo. Decidi a certa altura que, ou deixava de ser
tímido, ou a minha vida ia ser um calvário. Arranjei uma maneira de
fingir que não era eu, de me expor como se fosse um actor de uma peça e
pensar que se me atirassem maçãs podres não era assim tão pessoal. Isso
depois ajudou-me com os meios de comunicação e a experiência fez o
resto.
Adoro este senhor!
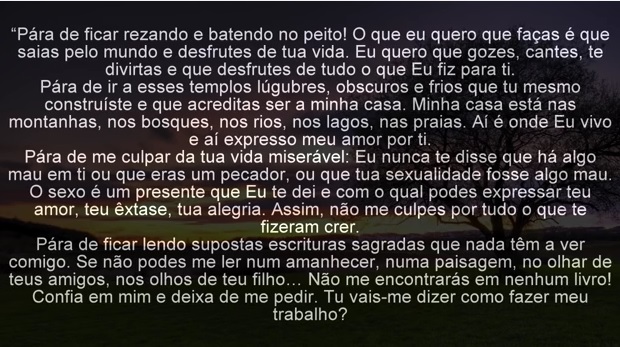

Comentários