"Comove-me a quantidade de crianças que são cuidadoras de pais infelizes"
Ana
Vasconcelos é uma das principais aliadas das crianças portuguesas: no
seu consultório passam diariamente muitas crianças em sofrimento. Nasceu
em Lisboa, formou-se em medicina e especializou-se em psiquiatria da
criança e do adolescente em Paris. Participou no primeiro curso de
mediação familiar do CEJ (Centro de Estudos Judiciários), é um dos
membros fundadores da Associação Portuguesa de Psicanálise e
Psicoterapia Psicanalítica e membro da SPPS (Sociedade Portuguesa de
Psicologia da Saúde).
Também já lhe pedi conselho várias vezes, para vários artigos, mas hoje estamos sem ‘tema’. Afinal, é uma entrevista. Podemos começar por qualquer sítio. Pergunto-lhe se quer dar o mote, desafio que a pedopsiquiatra aceita imediatamente: “Muito bem. Então dou-lhe o seguinte: ‘para que os amanhãs possam cantar’, de que me lembrei a propósito de um poema da Sophia de Mello Breyner, que nos faz pensar que o dia de hoje tem de nos ajudar a que a gente se sinta esperançosa.
Temos falta de esperança, hoje?
Acho que, mais do que nunca, temos receio do futuro. Porque o presente não tem sido bom, e nós alicerçamos o futuro no presente. Uma das coisas complicadas na pedopsiquiatria é que cada vez mais se faz clínica do instante em vez de clínica da história da pessoa. Os médicos têm muito pouco tempo para os pacientes, os professores têm muitas crianças. E faz-nos muita falta um tempo de melhor qualidade que não esteja tão ameaçado por estes ritmos da competição e da funcionalidade.
Quando é que as coisas começaram a correr mal?
A partir da altura em que a sociedade industrial criou a competição e a filosofia do ‘ou eu ou tu’. Dantes, na sociedade tribal, o que reinava era o coletivo e a partilha, embora houvesse sempre quem mandava e quem obedecia. Mas esta sociedade está a gerar muitos problemas na sua competição desenfreada.
A competitividade não pode desenvolver as nossas capacidades?
Pode, se estiver inserida num plano de desafio e não num plano do ‘ou eu ou tu’. Mais do que ‘eu melhor do que tu’ devemos educar para o ‘nós melhores do que há pouco’. Curiosamente, há quem diga que os miúdos não estão a ser educados para o brio, em que se dá o nosso melhor para alcançar um objetivo. O brio não está ligado à competição, está ligado ao reconhecimento. Esforçamo-nos mais quando alguém reconhece o nosso empenho.
Mas as crianças não querem todas ser melhores do que as outras e ter tudo para elas?
Claro que sim. Isso é natural. A partir dos 12 meses o individualismo tem de dominar, porque eu tenho de saber pisar bem o chão para me sentir seguro. Mas é muito importante que nesse individualismo, que é inerente ao desenvolvimento do cérebro, exista um cuidador que comece a educar para a empatia. Que diga – Muito bem, foste buscar um rebuçado para ti, podes trazer outro para o mano? – Que saiba orientar do individualismo para a partilha.
E quando as próprias mães querem que os filhos tenham mais do que os outros?
Isso acontece porque os adultos se descentraram do seu papel de responsabilidade parental.
E qual é esse papel?
Os adultos devem ser bússolas empáticas para as crianças. A empatia tem de existir porque nós temos neurónios-espelho que têm de ser postos a funcionar. Os neurónios-espelho são aquilo que em nós reconhece o outro a partir das nossas experiências. É pela forma como eu sei dar, que eu sei me sentir no mundo. E não se trata de ser ‘boa pessoa’. Trata-se de perceber, como dizia o Adriano Moreira, que o mundo é a casa de todos os homens.
O problema é que os miúdos são hoje mais educados por ecrãs do que pelos pais…
O que acontece é que os ecrãs não estimulam os neurónios-espelho. Quando eu olho para os olhos de alguém, olho para os olhos da pessoa porque sei que também tenho olhos. O outro é o meu reflexo. Se o outro estiver dentro de um ecrã, não existe essa convocação de determinadas memórias em que eu vou tentar perceber o que o outro sente baseado nas minhas próprias experiências. Eu posso dizer – Olha, tens o cabelo um bocadinho despenteado – ou então– Estás mesmo feia, vê lá se te arranjas. A maneira como eu coloco o outro dentro de mim vai determinar se consigo ou não construir uma relação de sintonização afetiva. Num ecrã, só temos a parte visual, e não a parte das memórias afetivas. Isto está ligado à comunicação icónico-simbólica, que é o que está a causar tanto do insucesso nas nossas escolas.
Pode explicar?
Os miúdos têm hoje muita dificuldade em chegar aos conceitos sem uma coisa concreta. Tipo: ‘A Galp? Ah, aquela coisa cor de laranja’ – em vez de – ‘A empresa que explora o comércio da gasolina em Portugal’. Ou seja, eles não têm palavras para explicar os conceitos.
Porque é que não têm palavras?
Porque estão entupidos com imagens das máquinas. Um filme dá 18 a 30 imagens por segundo, nós só dizemos 4 ou 5 palavras por segundo. Portanto, temos que dar-nos muito mais tempo para ir buscar ao nosso dicionário as palavras com que descrever uma situação. No 11 de Setembro, quando as torres caíram, reparei nas pessoas que me conseguiam explicar bem a situação. A maioria convocava as imagens do terror, mas não conseguia descrever as imagens do seu cérebro. Como nós todos partilhávamos as mesmas imagens, era mais fácil convocar o ícone. Problema: um ícone ajuda-nos a reconhecer imediatamente as coisas, mas podemos eventualmente não partilhar os mesmos sentimentos ou opiniões, e isso gera imensos equívocos.
Estamos a caminhar para um pensamento por imagens?
Sim. Estamos a caminhar para um pensamento muito económico e simbólico. Isso ajuda na pressa com que temos de viver o quotidiano, mas não ajuda no desenvolvimento da nossa identidade narrativa. Permite sintonizar-nos mais rapidamente com o outro. Mas o nosso tempo é de egocentrismo e individualismo, é um tempo que nos afasta da nossa própria história.
Quais são as consequências de estar longe da nossa história?
Dou-lhe um exemplo. Quando eu fui a Paris fazer a minha tese de doutoramento, trabalhei com porteiras portuguesas e com mães tunisinas e espanholas. Verifiquei que os miúdos portugueses eram passivos, calados e gordinhos, enquanto os tunisinos eram alegres e ativos. E percebi que, enquanto as mães tunisinas partilhavam com orgulho a sua cultura e a sua história coletiva, as mães portuguesas viviam numa tristeza brutal e silenciosa. E eu perguntava – Então não fala sobre Portugal aos seus filhos? – e elas queriam era esquecer, estavam num estado depressivo que fazia com que inibissem verbalmente as memórias e que as incapacitava de serem mães atuantes junto dos filhos. Eram mães sem narrativas, com imensas lágrimas e uma solidão brutal. Isso hoje, felizmente, já não é tanto assim.
Porque é que a procuram hoje, no seu consultório?
Basicamente, pela desadaptação dos filhos, quer social quer escolar. E também pela não-comunicação dos miúdos, sabendo que os miúdos neste momento fazem apelos aflitivos: ou se cortam, ou deixam cartas, ou fazem desabafos nas redes sociais. Mas como as pessoas já não conversam tanto, estes sinais são mais visíveis, ou adivinhados, nem sempre há uma comunicação verbal. Às vezes é difícil estar atento. A nossa vida é difícil, Portugal é um país difícil, e portanto somos muito desviados da nossa condição de cuidadores.
Por outro lado, nunca como hoje se publicou tanto livro sobre parentalidade…
É verdade. Por um lado, desvalorizamos a intuição. Há dois tipos de pessoas: os analíticos e os intuitivos. O pensamento intuitivo ficou muito desvalorizado pelo ‘boom’ da educação. Por outro lado, tentar o que se aconselha nos livros é a mesma coisa que fazer leite-creme pela receita: aquilo nunca sai bem à primeira, é preciso treinar. E nós não temos paciência, queremos que as coisas resultem imediatamente. Outras vezes, vemos os sinais dos filhos e queremos respostas imediatas. Por exemplo, a criança amua e nós vamos a correr ao psicólogo, enquanto os nossos avós encolhiam os ombros e diziam: ‘Tem mau feitio…’
Os pais também se queixam de que os filhos não comunicam?
Dizem: ‘Mas ele não me quer dizer o que tem!’ Não: ele não consegue. Claro que ele verbaliza ‘Eu não quero’. Mas não está é a conseguir explicar. É essa ligação que importa conseguir. Porque o nosso cérebro existe para a gente lidar com a nossa imperfeição física. Todos nós somos fisicamente mal-paridos (risos). E o cérebro desenvolve-se cada vez mais para compensar esta fragilidade física. O cérebro dá-nos a opção de analisar, decidir e escolher o que fazer.
Mas os pais estão hoje muito obcecados com as crianças…
Sim. Não era preciso tanto. Acho que, neste momento, o essencial é voltar às coisas simples.
Disse uma vez que não estamos a educar para a autonomia…
E não estamos. O pensamento pouco reflexivo faz com que as pessoas precisem muito de utilizar o material, o concreto. Dantes ligava-se aos filhos uma vez por dia, à noite. Agora pegamos no telemóvel e ligamos a toda a hora, queremos resposta imediata, somos muito impacientes. ‘Onde é que estás?’ – é a nossa pergunta constante. Ora o que é que isso interessa onde está? Se ele tiver esta ‘corda’ pequenina, não desenvolve autonomia, só desenvolve insegurança.
Houve alguma altura em que tivesse pensado ‘a minha experiência não me está a ajudar com os meus filhos’?
Houve. Quando me divorciei. Tenho três filhos, o mais novo tinha 2 anos, o mais velho, 10. Isto pode parecer estúpido, mas eu senti que seria desonesto dizer uma coisa no meu consultório e fazer outra na minha vida. Aquilo que nos dá mais tranquilidade interna é a coerência, que se consegue não pelo que se diz mas pelo que se faz, no resultado das nossas ações. Quando penso nisso, acho que sim, que consegui. Mas percebi então que não era uma supermãe.
O que é preciso hoje para sermos bons pais, embora não superpais?
Gostar de nós e gostar dos miúdos. É o essencial. Claro que isso depois implica montes de escolhas. Por exemplo, eu nunca me preocupei muito em ganhar dinheiro. Temos de saber o que queremos na vida, quais são as nossas prioridades. E temos de ser honestos com as nossas capacidades e limitações. Ainda hoje sinto, como mãe e como avó, que faço muita asneira, todos os dias. Mas sendo ateia, sempre tentei que a minha culpabilidade em relação a isso se transformasse em tentar fazer melhor.
Há maneira de escapar à culpa materna?
Talvez não. Mas cada um tem de construir o seu ‘mapa-mundi’ pessoal dentro de si. Temos de perceber que não somos imortais. Temos de pensar no nosso fim, para sermos mais humildes, porque andamos a gastar-nos em coisas que não nos dão lucro humano.
Fale-me de uma pessoa fantástica que tenha ido ao seu gabinete...
Todas as crianças são fantásticas, porque está ali tudo a começar. Eu faço de Sherlock Holmes em todas as consultas. Os miúdos que estão em sofrimento dão-nos sempre pistas e mostram-nos como somos fantásticos, nós, humanos, a pensar e a sentir. Uma coisa que me comove imenso hoje em dia é a quantidade de crianças que neste momento são cuidadoras de pais infelizes. Esta capacidade de generosidade é imensa. É claro que elas precisam que os pais cuidem delas, mas há miúdos com uma capacidade imensa de cuidar do outro no sentido de preservar os laços que unem aquela família. As crianças defendem os pais mesmo quando esses pais são disfuncionais. Isto é muitíssimo comovente. E também é por isso que nunca se deve obrigar uma criança em situação de litígio a escolher um dos pais.
Defender os pais não é uma técnica de sobrevivência?
No limite, todo o tipo de afeto é uma técnica de sobrevivência. Porque nós só conseguimos muito tarde tornar-nos autónomos dos nossos pais. Portanto, temos de garantir o seu afeto. O nosso cérebro é gregário, é de partilha, não é de um predador. Não há cérebros sozinhos. O bebé tem uma predisposição para se sintonizar com um adulto cuidador, mesmo um mau cuidador. Por isso é que muitas vezes os miúdos copiam os pais mesmo em situações negativas. Mas isso não os torna menos comoventes.
Voltámos aos amanhãs que cantam?
Voltamos sempre. Estamos em tempos muito escuros, mas acredito verdadeiramente que, se soubermos procurar, há sempre uma luz que vem ao nosso encontro.
Aqui.
Também já lhe pedi conselho várias vezes, para vários artigos, mas hoje estamos sem ‘tema’. Afinal, é uma entrevista. Podemos começar por qualquer sítio. Pergunto-lhe se quer dar o mote, desafio que a pedopsiquiatra aceita imediatamente: “Muito bem. Então dou-lhe o seguinte: ‘para que os amanhãs possam cantar’, de que me lembrei a propósito de um poema da Sophia de Mello Breyner, que nos faz pensar que o dia de hoje tem de nos ajudar a que a gente se sinta esperançosa.
Temos falta de esperança, hoje?
Acho que, mais do que nunca, temos receio do futuro. Porque o presente não tem sido bom, e nós alicerçamos o futuro no presente. Uma das coisas complicadas na pedopsiquiatria é que cada vez mais se faz clínica do instante em vez de clínica da história da pessoa. Os médicos têm muito pouco tempo para os pacientes, os professores têm muitas crianças. E faz-nos muita falta um tempo de melhor qualidade que não esteja tão ameaçado por estes ritmos da competição e da funcionalidade.
Quando é que as coisas começaram a correr mal?
A partir da altura em que a sociedade industrial criou a competição e a filosofia do ‘ou eu ou tu’. Dantes, na sociedade tribal, o que reinava era o coletivo e a partilha, embora houvesse sempre quem mandava e quem obedecia. Mas esta sociedade está a gerar muitos problemas na sua competição desenfreada.
A competitividade não pode desenvolver as nossas capacidades?
Pode, se estiver inserida num plano de desafio e não num plano do ‘ou eu ou tu’. Mais do que ‘eu melhor do que tu’ devemos educar para o ‘nós melhores do que há pouco’. Curiosamente, há quem diga que os miúdos não estão a ser educados para o brio, em que se dá o nosso melhor para alcançar um objetivo. O brio não está ligado à competição, está ligado ao reconhecimento. Esforçamo-nos mais quando alguém reconhece o nosso empenho.
Mas as crianças não querem todas ser melhores do que as outras e ter tudo para elas?
Claro que sim. Isso é natural. A partir dos 12 meses o individualismo tem de dominar, porque eu tenho de saber pisar bem o chão para me sentir seguro. Mas é muito importante que nesse individualismo, que é inerente ao desenvolvimento do cérebro, exista um cuidador que comece a educar para a empatia. Que diga – Muito bem, foste buscar um rebuçado para ti, podes trazer outro para o mano? – Que saiba orientar do individualismo para a partilha.
E quando as próprias mães querem que os filhos tenham mais do que os outros?
Isso acontece porque os adultos se descentraram do seu papel de responsabilidade parental.
E qual é esse papel?
Os adultos devem ser bússolas empáticas para as crianças. A empatia tem de existir porque nós temos neurónios-espelho que têm de ser postos a funcionar. Os neurónios-espelho são aquilo que em nós reconhece o outro a partir das nossas experiências. É pela forma como eu sei dar, que eu sei me sentir no mundo. E não se trata de ser ‘boa pessoa’. Trata-se de perceber, como dizia o Adriano Moreira, que o mundo é a casa de todos os homens.
O problema é que os miúdos são hoje mais educados por ecrãs do que pelos pais…
O que acontece é que os ecrãs não estimulam os neurónios-espelho. Quando eu olho para os olhos de alguém, olho para os olhos da pessoa porque sei que também tenho olhos. O outro é o meu reflexo. Se o outro estiver dentro de um ecrã, não existe essa convocação de determinadas memórias em que eu vou tentar perceber o que o outro sente baseado nas minhas próprias experiências. Eu posso dizer – Olha, tens o cabelo um bocadinho despenteado – ou então– Estás mesmo feia, vê lá se te arranjas. A maneira como eu coloco o outro dentro de mim vai determinar se consigo ou não construir uma relação de sintonização afetiva. Num ecrã, só temos a parte visual, e não a parte das memórias afetivas. Isto está ligado à comunicação icónico-simbólica, que é o que está a causar tanto do insucesso nas nossas escolas.
Pode explicar?
Os miúdos têm hoje muita dificuldade em chegar aos conceitos sem uma coisa concreta. Tipo: ‘A Galp? Ah, aquela coisa cor de laranja’ – em vez de – ‘A empresa que explora o comércio da gasolina em Portugal’. Ou seja, eles não têm palavras para explicar os conceitos.
Porque é que não têm palavras?
Porque estão entupidos com imagens das máquinas. Um filme dá 18 a 30 imagens por segundo, nós só dizemos 4 ou 5 palavras por segundo. Portanto, temos que dar-nos muito mais tempo para ir buscar ao nosso dicionário as palavras com que descrever uma situação. No 11 de Setembro, quando as torres caíram, reparei nas pessoas que me conseguiam explicar bem a situação. A maioria convocava as imagens do terror, mas não conseguia descrever as imagens do seu cérebro. Como nós todos partilhávamos as mesmas imagens, era mais fácil convocar o ícone. Problema: um ícone ajuda-nos a reconhecer imediatamente as coisas, mas podemos eventualmente não partilhar os mesmos sentimentos ou opiniões, e isso gera imensos equívocos.
Estamos a caminhar para um pensamento por imagens?
Sim. Estamos a caminhar para um pensamento muito económico e simbólico. Isso ajuda na pressa com que temos de viver o quotidiano, mas não ajuda no desenvolvimento da nossa identidade narrativa. Permite sintonizar-nos mais rapidamente com o outro. Mas o nosso tempo é de egocentrismo e individualismo, é um tempo que nos afasta da nossa própria história.
Quais são as consequências de estar longe da nossa história?
Dou-lhe um exemplo. Quando eu fui a Paris fazer a minha tese de doutoramento, trabalhei com porteiras portuguesas e com mães tunisinas e espanholas. Verifiquei que os miúdos portugueses eram passivos, calados e gordinhos, enquanto os tunisinos eram alegres e ativos. E percebi que, enquanto as mães tunisinas partilhavam com orgulho a sua cultura e a sua história coletiva, as mães portuguesas viviam numa tristeza brutal e silenciosa. E eu perguntava – Então não fala sobre Portugal aos seus filhos? – e elas queriam era esquecer, estavam num estado depressivo que fazia com que inibissem verbalmente as memórias e que as incapacitava de serem mães atuantes junto dos filhos. Eram mães sem narrativas, com imensas lágrimas e uma solidão brutal. Isso hoje, felizmente, já não é tanto assim.
Porque é que a procuram hoje, no seu consultório?
Basicamente, pela desadaptação dos filhos, quer social quer escolar. E também pela não-comunicação dos miúdos, sabendo que os miúdos neste momento fazem apelos aflitivos: ou se cortam, ou deixam cartas, ou fazem desabafos nas redes sociais. Mas como as pessoas já não conversam tanto, estes sinais são mais visíveis, ou adivinhados, nem sempre há uma comunicação verbal. Às vezes é difícil estar atento. A nossa vida é difícil, Portugal é um país difícil, e portanto somos muito desviados da nossa condição de cuidadores.
Por outro lado, nunca como hoje se publicou tanto livro sobre parentalidade…
É verdade. Por um lado, desvalorizamos a intuição. Há dois tipos de pessoas: os analíticos e os intuitivos. O pensamento intuitivo ficou muito desvalorizado pelo ‘boom’ da educação. Por outro lado, tentar o que se aconselha nos livros é a mesma coisa que fazer leite-creme pela receita: aquilo nunca sai bem à primeira, é preciso treinar. E nós não temos paciência, queremos que as coisas resultem imediatamente. Outras vezes, vemos os sinais dos filhos e queremos respostas imediatas. Por exemplo, a criança amua e nós vamos a correr ao psicólogo, enquanto os nossos avós encolhiam os ombros e diziam: ‘Tem mau feitio…’
Os pais também se queixam de que os filhos não comunicam?
Dizem: ‘Mas ele não me quer dizer o que tem!’ Não: ele não consegue. Claro que ele verbaliza ‘Eu não quero’. Mas não está é a conseguir explicar. É essa ligação que importa conseguir. Porque o nosso cérebro existe para a gente lidar com a nossa imperfeição física. Todos nós somos fisicamente mal-paridos (risos). E o cérebro desenvolve-se cada vez mais para compensar esta fragilidade física. O cérebro dá-nos a opção de analisar, decidir e escolher o que fazer.
Mas os pais estão hoje muito obcecados com as crianças…
Sim. Não era preciso tanto. Acho que, neste momento, o essencial é voltar às coisas simples.
Disse uma vez que não estamos a educar para a autonomia…
E não estamos. O pensamento pouco reflexivo faz com que as pessoas precisem muito de utilizar o material, o concreto. Dantes ligava-se aos filhos uma vez por dia, à noite. Agora pegamos no telemóvel e ligamos a toda a hora, queremos resposta imediata, somos muito impacientes. ‘Onde é que estás?’ – é a nossa pergunta constante. Ora o que é que isso interessa onde está? Se ele tiver esta ‘corda’ pequenina, não desenvolve autonomia, só desenvolve insegurança.
Houve alguma altura em que tivesse pensado ‘a minha experiência não me está a ajudar com os meus filhos’?
Houve. Quando me divorciei. Tenho três filhos, o mais novo tinha 2 anos, o mais velho, 10. Isto pode parecer estúpido, mas eu senti que seria desonesto dizer uma coisa no meu consultório e fazer outra na minha vida. Aquilo que nos dá mais tranquilidade interna é a coerência, que se consegue não pelo que se diz mas pelo que se faz, no resultado das nossas ações. Quando penso nisso, acho que sim, que consegui. Mas percebi então que não era uma supermãe.
O que é preciso hoje para sermos bons pais, embora não superpais?
Gostar de nós e gostar dos miúdos. É o essencial. Claro que isso depois implica montes de escolhas. Por exemplo, eu nunca me preocupei muito em ganhar dinheiro. Temos de saber o que queremos na vida, quais são as nossas prioridades. E temos de ser honestos com as nossas capacidades e limitações. Ainda hoje sinto, como mãe e como avó, que faço muita asneira, todos os dias. Mas sendo ateia, sempre tentei que a minha culpabilidade em relação a isso se transformasse em tentar fazer melhor.
Há maneira de escapar à culpa materna?
Talvez não. Mas cada um tem de construir o seu ‘mapa-mundi’ pessoal dentro de si. Temos de perceber que não somos imortais. Temos de pensar no nosso fim, para sermos mais humildes, porque andamos a gastar-nos em coisas que não nos dão lucro humano.
Fale-me de uma pessoa fantástica que tenha ido ao seu gabinete...
Todas as crianças são fantásticas, porque está ali tudo a começar. Eu faço de Sherlock Holmes em todas as consultas. Os miúdos que estão em sofrimento dão-nos sempre pistas e mostram-nos como somos fantásticos, nós, humanos, a pensar e a sentir. Uma coisa que me comove imenso hoje em dia é a quantidade de crianças que neste momento são cuidadoras de pais infelizes. Esta capacidade de generosidade é imensa. É claro que elas precisam que os pais cuidem delas, mas há miúdos com uma capacidade imensa de cuidar do outro no sentido de preservar os laços que unem aquela família. As crianças defendem os pais mesmo quando esses pais são disfuncionais. Isto é muitíssimo comovente. E também é por isso que nunca se deve obrigar uma criança em situação de litígio a escolher um dos pais.
Defender os pais não é uma técnica de sobrevivência?
No limite, todo o tipo de afeto é uma técnica de sobrevivência. Porque nós só conseguimos muito tarde tornar-nos autónomos dos nossos pais. Portanto, temos de garantir o seu afeto. O nosso cérebro é gregário, é de partilha, não é de um predador. Não há cérebros sozinhos. O bebé tem uma predisposição para se sintonizar com um adulto cuidador, mesmo um mau cuidador. Por isso é que muitas vezes os miúdos copiam os pais mesmo em situações negativas. Mas isso não os torna menos comoventes.
Voltámos aos amanhãs que cantam?
Voltamos sempre. Estamos em tempos muito escuros, mas acredito verdadeiramente que, se soubermos procurar, há sempre uma luz que vem ao nosso encontro.
Aqui.
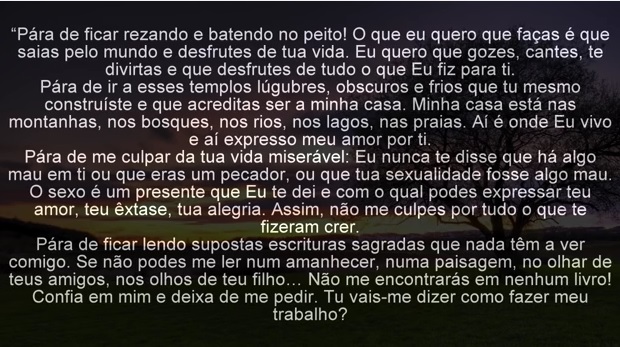
Comentários